Sempre rock n' roll
Astrólogo e psicólogo, o ex-baterista do Engenheiros do Hawaii relembra a época de músico, critica a mediocridade dos novos tempos e conta como se tornou uma espécie de filósofo do Twitter

Em 11 de agosto de 1999, ele e a família se mudaram para Brasília, onde passou a se dedicar a uma nova paixão, a astrologia. Nove anos depois, concluiu a graduação em psicologia e, em seguida, a pós-graduação em psicologia jungiana. Aos 50 anos, Maltz é um crítico da preguiça intelectual do brasileiro e do produto no qual o rock se transformou. “Atualmente, o povo faz questão de ser burro, né?“, alfineta. De acordo com ele, o rock genuíno morreu em 1950, quando passou a virar um negócio. A Encontro Brasília, ele fala sobre música e sobre como se tornou uma espécie de filósofo do Twitter.
1 | Na década de 1980, o rock brasileiro produziu bandas de sucesso, como o próprio Engenheiros do Hawaii, o Legião Urbana e o Titãs. Que legado ficou? O rock genuíno morreu?
Para mim, o que ficou foi até mais atitude do que o som. Nós estávamos saindo da ditadura militar, tudo era tão épico, tão importante... De certo modo, a gente estava vivendo os anos 1960 na década de 1980. Nós éramos os Beatles, os (Rolling) Stones, o The Who, o Led Zeppelin, o U2. Tudo ao mesmo tempo. Agora, eu olho o que as bandas estão fazendo. É o contrário, não é? Nada é importante, tudo é banal. Não é culpa dos garotos, não é culpa de ninguém, é apenas a época em que as pessoas estão vivendo. A era do rock passou. O punk foi a última coisa vital que aconteceu no rock. Os anos 1980 eram pós-punk. Já era um revival dos anos 1950... O que ficou daquela época: a épica. Se o rock genuíno morreu? Sim. Morreu nos anos 1950. Depois, virou um negócio.
2 | Que experiências mais o marcaram durante os 10 anos do Engenheiros? Você esperava o sucesso?
Nós nem pensávamos em sucesso quando a banda começou. Estávamos no lugar certo e na hora certa. Fazíamos por amor à arte, mesmo. Essas coisas ainda existiam no Brasil nos anos 1980. O entusiasmo, a alegria de fazer, a arrogância criativa de quem invadiu a praia das rádios FMs. Atualmente, o povo faz questão de ser burro. Pode ser que, depois dessa chacoalhada toda que está acontecendo, a coisa mude um pouco. Pode ser que as pessoas percam o medo de pensar. Desde o começo dos anos 1990, “papo cabeça” virou sinônimo de palavrão. As experiências mais marcantes, para mim, foram os dois “Hollywood Rock” que participamos. Fomos elevados à categoria de heróis nacionais no primeiro e fomos massacrados na abertura do show do Nirvana no segundo.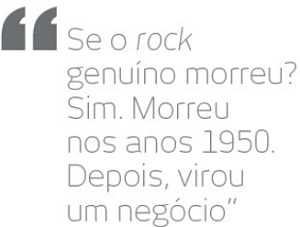
Fomos unidos pelo acaso. Criamos a banda para tocar em uma única noite e passamos 10 anos juntos. Eu não ia com a cara do Gessinger e nem ele com a minha. Só nos juntamos porque ia ser um show só. O Licks chegou depois, quando a gente já tinha o primeiro disco de ouro. Éramos uns caras que tínhamos sobrevivido juntos a um naufrágio, ou coisa que o valha... Dez anos à deriva no mar... Fiquei amigo do Gessinger depois que a banda se separou. O Licks... Nunca mais vi. Nós nos separamos depois de uma briga muito feia.
4 | É possível traçar um paralelo entre o Maltz da época dos Engenheiros e o Maltz de agora?
Eu era muito novo quando a banda estourou... Com 20 e poucos anos, eu ganhava mais dinheiro do que o meu pai. Ou seja, se eu já era arrogante e insuportável, imagine como eu fiquei. Depois, eu saí da banda e me ferrei. Perdi praticamente tudo o que tinha e tive de começar do zero. Agora eu sou bem mais parecido com gente... Acho...
5 | Como era a relação do Engenheiros do Hawaii com os bastidores do rock? Era algo turbulento? Rolava droga?
Os Engenheiros nunca pertenceram ao sindicato do rock, à “Turma”. Nem em Porto Alegre, nem quando passamos a ser do mainstream do rock nacional. Não éramos uma banda dos anos 1980, e sim uma banda dos anos 1970 perdida no tempo e surfando a mesma onda que a turma do rock dos 1980. Nunca fomos ratos de praia, fissurados em festas, drogas... Até hoje, sou totalmente avesso a festas, que considero um lugar apropriado apenas para se conhecer o que existe de mais burro, superficial e vulgar no ser humano. Não estou dizendo que éramos santos. Éramos e ainda somos bem vaidosos, egocêntricos, temperamentais e todas essas coisas que os artistas costumam ser. Mas estávamos mais interessados na música do que na festa.
6 | Você consideraria o reencontro da banda para a gravação de um novo disco ou a realização de shows?
Shows? Só se for um show beneficente para idosos do rock... (risos)
7 | Como é sua relação com Brasília?
Adoro morar em Brasília. A ácropole de concreto. Sou fã do céu do cerrado. Dizem que as pessoas que vêm para essas plagas planaltinas ou se apaixonam ou detestam. Eu me apaixonei. Gostei tanto dessa ilha de cimento candango, rompendo o mar do céu, que, nos três primeiros anos aqui, não debandei ao litoral em nenhum domingo. Tenho de confessar: o velho Oscar (Niemeyer), com todas as críticas que somos capazes de fazer à falta de funcionalidade de suas obras, tinha um talento único para as grandiosidades. Um talento monumental para o épico. Só ele seria capaz de fazer frente a esse desafio titânico que é dialogar com a esmagadora beleza do azul infinito que a planura quase nos permite tocar. Precisa mais?
8 | Você já foi ateu e, depois de uma viagem a Israel, mudou. Como vê a ideia de Deus e da religião, hoje?
Eu achava que era ateu, né? Como a maioria dos ateus acha que é. Ninguém acredita ou desacredita em Deus. Nós não estamos com essa bola toda, de dar ou retirar o crédito de Deus. Nós estamos precisando é receber algum crédito de Deus – apesar de toda a cachorrice que somos capazes de perpetrar a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Eu aprendi que Deus é uma coisa e a estupidez que as pessoas fazem em seu nome é outra.
9 | No Twitter, seus fãs fazem perguntas filosóficas. Como lida com isso?
Acho ótimo. Estou nessa de usar as ferramentas de comunicação eletrônica para promover debates filosóficos desde o começo do século. No começo, foram os chats no Orkut, que foram a base do meu primeiro livro: Abilolado Mundo Novo. A ideia era usar esse meio de comunicação quase sempre superficial para tratar questões existenciais. Não essa filosofia acadêmica empolada. Mas a filosofia das ruas, mais parecida com a que Sócrates praticava no Ágora grego. A internet é o Ágora do agora. Depois, veio o Twitter. A princípio, me parecia impossível fazer a discussão em 140 caracteres. Mas o Humberto Gessinger me desafiou a fazê-lo. E eu encarei.
10 | E como tem sido a repercussão?
No começo, fui muito criticado... Algumas pessoas tinham reações indignadas, quase como se eu fosse um iconoclasta, um sacrílego... Pensei que não ia vingar. Mas estou com quase 10 mil seguidores. E os debates são interessantíssimos. Temos de aprender a ser extremamente objetivo, e a mistura de frases profundas e existenciais com a linguagem rápida da internet é incrível do ponto de vista estético.
-
15:37
-
17:42
-
16:58
-
17:18
-
16:28
-
16:17
-
18:27


